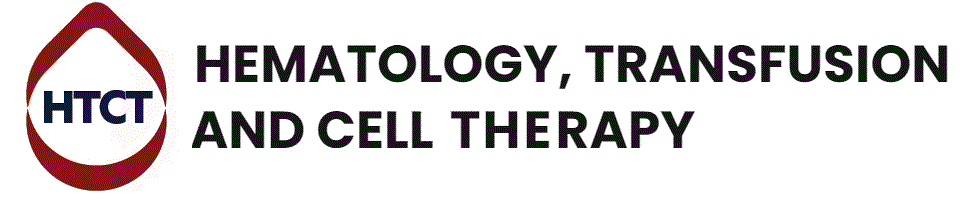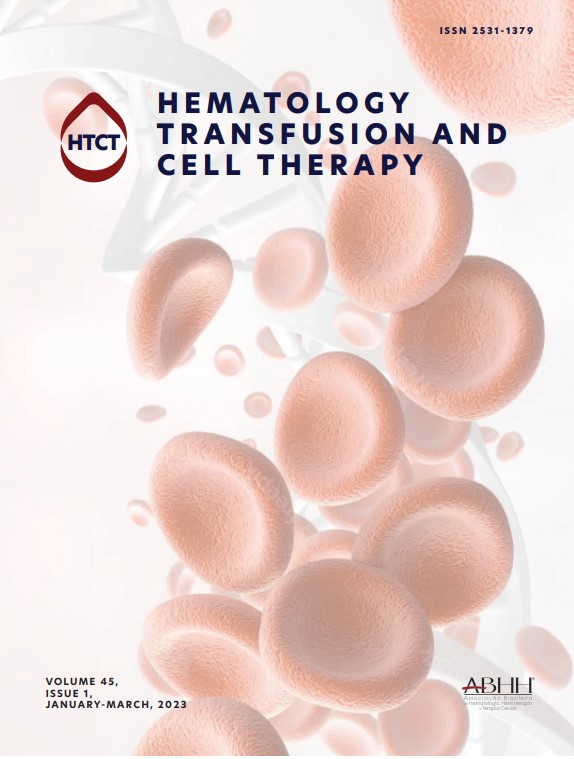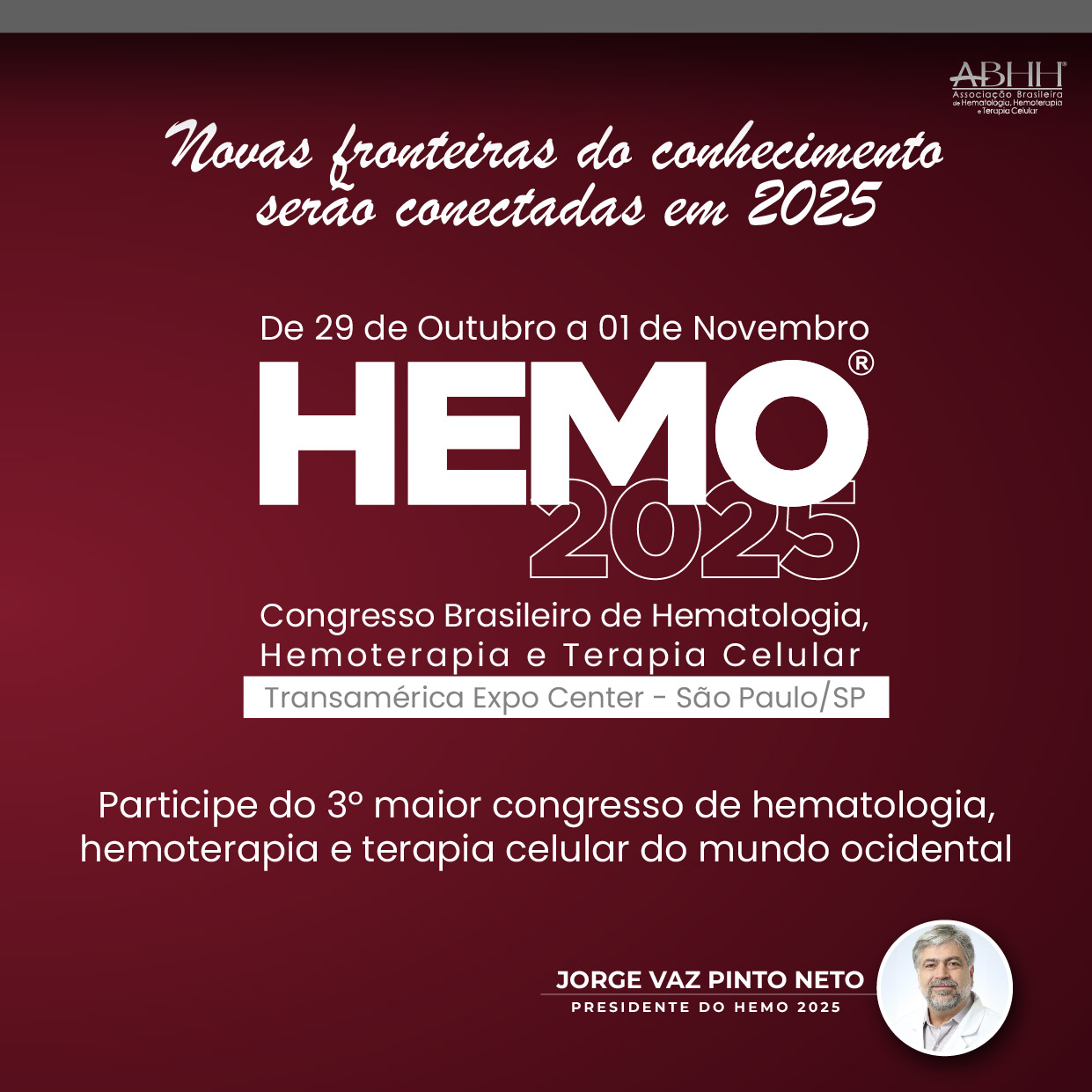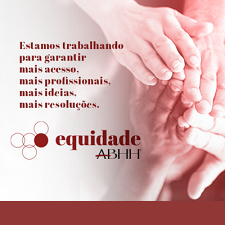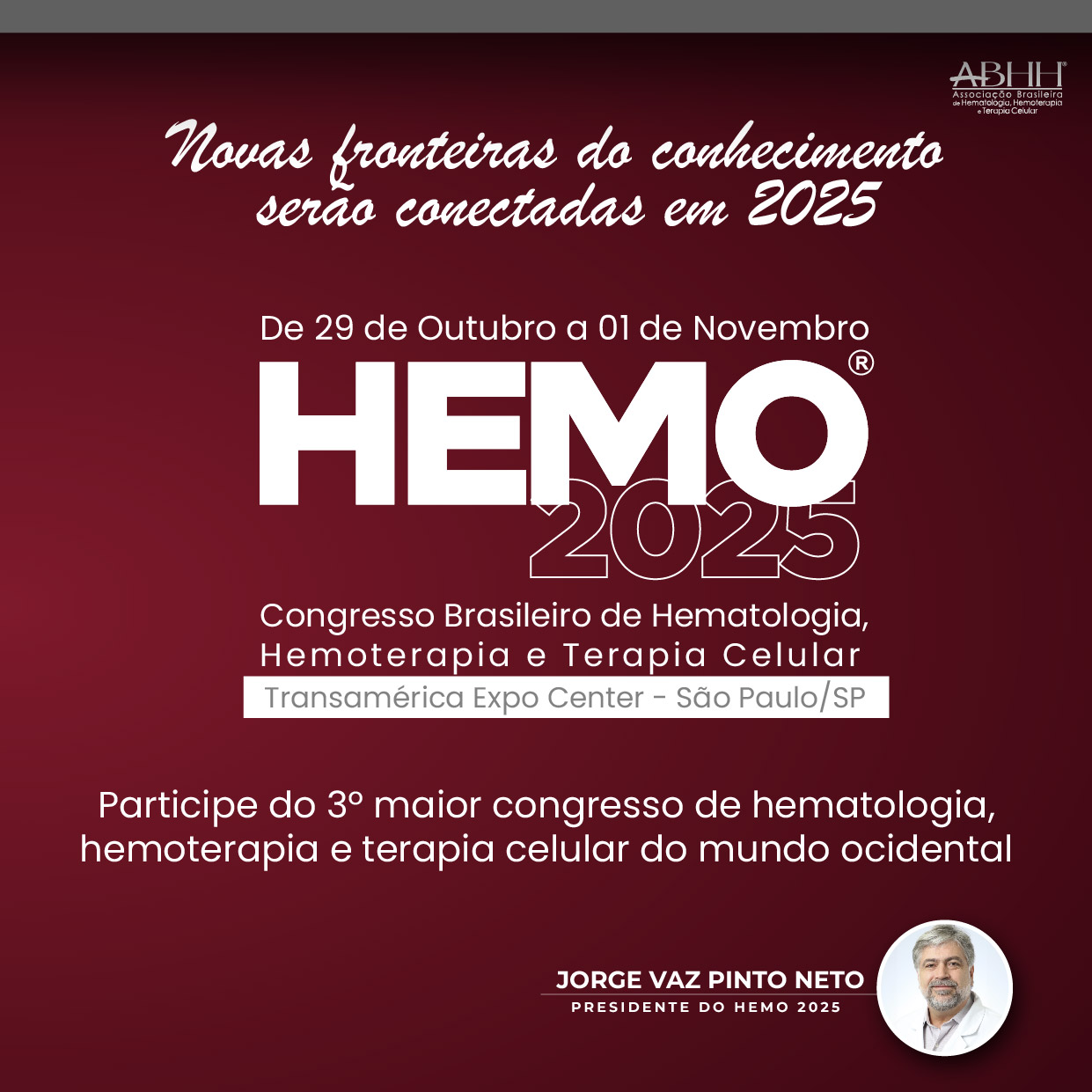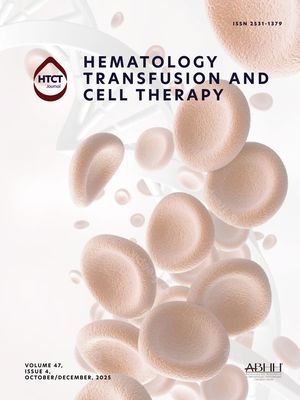
Compreender a doença hemolítica do recém-nascido e suas consequências durante a gravidez.
Material e MétodosTrata-se de um estudo exploratório por meio de pesquisa bibliográfica não sistematizado, sendo operacionalizada a partir da busca eletrônica de artigos presentes nas bases de dados: Medical Publications (PubMed), Scopus (Elsevier), Google acadêmico e Scientific Electronic Library Online(SciELO). Para os critérios de inclusão, foram selecionados trabalhos publicados no período de 2017 a 2022, contendo o texto na íntegra, nos indiomas português e inglês, que atendesse ao objetivo proposto. Foram excluídos artigos publicados antes do ano de 2017, em forma de resumos e não publicados.
ResultadosA doença hemolítica do recém-nascido, conhecida como eritroblastose fetal, consiste passagem transplacentária de sangue fetal para a mãe, ocorrendo uma interação entre hemácias. Esse fenômeno permite que os eritrócitos com fator Rh D-positivo penetrem na circulação de gestantes que seja fator Rh D-negativo causando a sensibilização, produção de anticorpos específicos, nesta gestante. Com base na análise dos artigos, a fisiopatologia nos fetos pode ser observada através de quadros de anemia, hepatoesplenomegalia e hiperbilirrubinemia. Dessa maneira, devido a hemólise, o organismo do feto busca compensar a perda das hemácias, aumentando a eritropoiese medular e, posteriormente, sendo produzido novas hemácias no fígado, no baço, nos rins e na placenta. Essa situação pode levar a uma hepatoesplenomegalia, com circulação de células imaturas, resultando em um quadro de anemia. No entanto, a hiperbilirrubinemia não será agressora ao feto, pois o fígado da mãe vai metabolizar o excesso, mas esse quadro é de grande relevância após o parto.
DiscussãoDiante dos artigos revisados perceberam-se que o diagnóstico e tratamento precoce são essenciais para a sobreviva do DHPN. Para tanto é crucial entender que a DHPN, acontece após a passagem placentária de eritrócitos fetais para a circulação materna, onde os antígenos de superfícies são diferentes dos maternos. Desta forma, após a exposição inicial a um antígeno eritrocitário, o sistema imune materno é capaz de produzir anticorpos do tipo IgM, consequentemente, por conta do seu elevado peso molecular estes anticorpos não atravessam a placenta. No entanto, quando se dá a uma segunda exposição a esse antígeno, é gerada uma grande produção anticorpos do tipo IgG, de baixo peso molecular, que possui a capacidade de atravessar a barreira placentária e se ligando-se aos eritrócitos fetais. Os eritrócitos portadores de um número suficiente de moléculas de anticorpo são então destruídos no sistema retículo-endotelial do feto ou do neonato. Assim, a DHPN pode ser diagnosticada por meio do exame clínico, laboratorial, ultrassonográfico e após o nascimento.
ConclusãoConclui-se, portanto, que em casos de risco da formação do anticorpo anti-D em mulheres Rh D-negativas, a principal forma de prevenção deve ser a administração de uma pequena quantidade do anticorpo antes que o sangue do feto sensibiliza o organismo da mãe, ressaltando a importância do diagnóstico precoce.